Como o capitalismo brasileiro explica o colapso da gestão das novas arenas
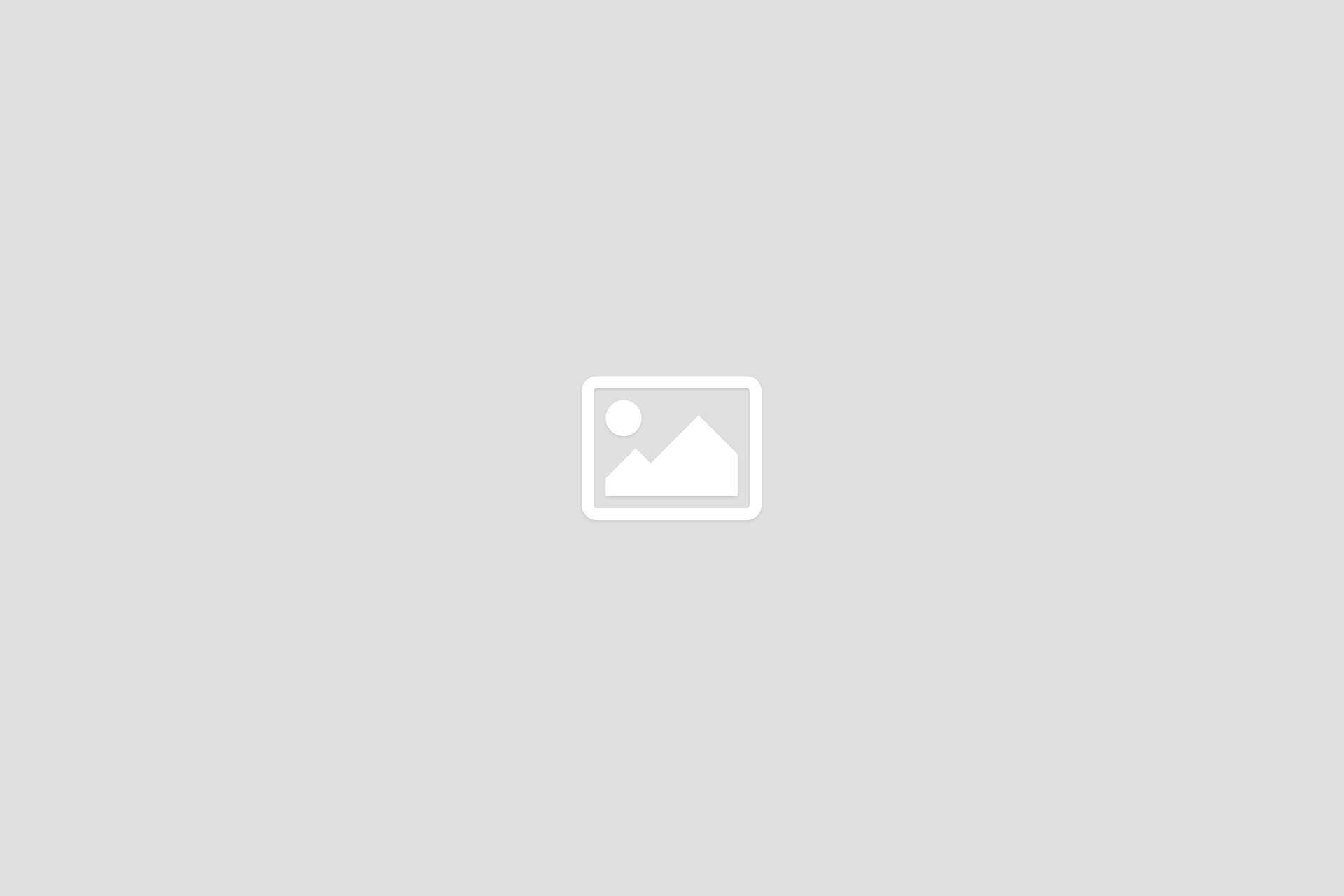
O Bahia matou a charada: “Para nós, tricolores, estádio, futebol e Bahia não são matemática financeira. São nossa vida, nosso orgulho, nosso amor”. Não que fosse muito difícil. Os clubes querem dar títulos e alegrias aos seus torcedores. Querem a companhia deles em peso todos os jogos. Os consórcios que construíram ou reformaram os mais modernos estádios do Brasil querem recuperar o investimento e lucrar. Não é necessariamente um conflito, mas os interesses dos dois lados precisam estar alinhados para a parceria funcionar. Quase um ano depois da Copa, há indícios mais do que suficientes para suspeitar que muitas vezes eles não estão.
A Copa do Mundo da iniciativa privada, tão propagandeada pelo ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e pelo ex-ministro do esporte Aldo Rebello não passou de um mito. Os 12 estádios do torneio tiveram algum tipo de investimento do governo, seja por meio de empréstimos do BNDES, investimento direto ou isenção de imposto. Na esteira das novas arenas, o Grêmio e a OAS também tiveram a ajuda do banco de desenvolvimento para pagar as contas.
As justificativas para gastar o dinheiro do contribuinte com estádios que seriam usados por clubes que pagam centenas de milhares de reais para os seus jogadores foram do abstrato ao mais palpável. Teve a “moral do estado” por receber o Mundial, a “necessidade de desenvolver o futebol local” – embora fosse muito mais eficiente para esse objetivo construir centenas de campinhos de futebol públicos ao invés de uma grande arena -, e também o retorno financeiro que um palco de eventos poderia trazer.
Os problemas desse último foram a necessidade de encontrar alguém que soubesse gerir estádios e evitar que a manutenção dele gerasse ainda mais prejuízos para o contribuinte. Logo, os governos foram atrás de parceiros para assumir a gestão por meio de Parcerias Público Privadas. Foi assim que os consórcios tornaram-se personagens do tabuleiro do futebol brasileiro.
A Fonte Nova ficou sob responsabilidade de um consórcio formado pelas construtoras Odebrecht e OAS. A Arena Pernambuco, na mão de duas empresas da Odebrecht. O Maracanã, da onipresente Odebrecht, na companhia da IMX e da AEG. A Arena das Dunas está com a OAS. O Castelão, com Consórcio Galvão, Serveng e BWA. O Mineirão é tocado pela Minas Arena, cuja composição tem as empresas Construcap, Egesa e Hap Engenharia. Ou seja, metade dos estádios da Copa do Mundo funciona com esse modelo.
A outra metade tem modelos diferentes. Amazonas está em busca de uma privatização, mas ainda administra seu próprio ativo, como Cuiabá e Brasília. O Corinthians tem que pagar a conta para a Odebrecht e para os bancos (privados e públicos), mas controla o seu estádio. O Atlético Paranaense, também. O Internacional dividiu a bronca com a Andrade Gutierrez: clube trata do futebol, a construtora do resto.
Mas as concessões de estádios construídos com dinheiro público a empresas privadas carregaram os vícios de outras que foram firmadas entre o setor público e o privado no Brasil. O que regulariza essa festa é a Lei das PPPs, sancionada pelo ex-presidente Lula em 2004. A diferença para a concessão comum é a contrapartida do governo ao prestador de serviço – em contraste com o outro modelo, que prevê o lucro privado apenas pela exploração do usuário final.
O modelo foi criado para serviços como estradas pouco movimentadas, linhas de metrô com altos preços, presídios e hospitais, por exemplo, nos quais as contrapartidas não são suficientes para o modelo padrão de concessões. No entanto, cria uma dependência muito grande para as empresas de contratos estatais. A OAS, construtora da Fonte Nova, da Arena das Dunas e da Arena Grêmio, teve os bens bloqueados pela Operação Lava Jato e em três meses entrou em recuperação judicial. Faliu.
“O fato de uma empresa desse porte não ter capital para sustentar uma situação adversa por mais de três meses, trabalhando no limite, ilustra bem o nível de dependência desses grupos do Estado”, afirma o cientista social, Mestre em Planejamento e Gestão de Território e especialista em Políticas Públicas do Governo de São Paulo, Leonardo Rossatto. “Essa dependência também está afirmada em uma relação histórica de desconfiança mútua. O Estado desconfia que as empresas vão atrasar as obras e encarecê-las, enquanto as empresas se queixam que os estados são pagadores pouco confiáveis.”
Aproveitando o gancho dos pagadores pouco confiáveis, voltemos ao futebol, um negócio ainda mais instável para uma PPP. A renda de bilheteria depende muito de algo tão volátil quanto o humor do torcedor, a capacidade do centroavante marcar um gol ou de um time ser campeão. O gestor pode lotar o calendário com shows e outros eventos, e isso é essencial, mas a alma de uma arena são os jogos disputados nela. E para isso, precisa sempre haver um clube popular envolvido.
Por isso, as garantias do poder público tiveram que ser muito boas. Se a receita da Fonte Nova não for de pelo menos R$ 23 milhões por ano, o Estado completa, além de uma contraprestação de R$ 99 milhões por temporada durante 15 anos, segundo a Agência Pública. A mesma reportagem informa que o governo do Rio Grande do Norte desembolsa R$ 10,3 milhões mensais para o consórcio que cuida da Arena das Dunas. Em Pernambuco, o governo tem que garantir 50% do faturamento previsto. E se a margem operacional (lucro menos gasto, sem o pagamento de imposto de renda) da Minas Arena for inferior a R$ 3,7 milhões, o governo estadual completa. Sem falar que o contrato ainda prevê que o poder público de Minas Gerais pague 120 parcelas de R$ 3,3 milhões para cobrir o empréstimo do BNDES ao consórcio.
Do que se tira a conclusão de quem se dá melhor no triângulo amoroso clube-consórcio-governo. Não apenas nessa questão financeira, mas também quando as empresas sentaram com os dirigentes para negociar. Elas podem até querer os estádios funcionando a todo vapor, com torcida e jogos de futebol, mas, se não houver, o problema não é tão grande assim porque um mínimo de lucro está garantido, caso as exigências mínimas do contrato que firmou sejam cumpridas. Por outro lado, os clubes precisam de boas bilheterias para sobreviver e evoluir. Quem tem mais poder de barganha?
Quando destrinchamos os contratos dos clubes com os estádios, em março do ano passado, constatamos que muitos, não apenas os que foram cedidos por PPPs, fizeram acordos que não eram tão bons assim para eles. Os conflitos, portanto, não demorariam a acontecer. Voltando ao caso do Bahia, o clube de Salvador anunciou que deixaria a Fonte Nova nas mãos do consórcio e voltaria a mandar suas partidas no Pituaçu, onde a sua torcida sente-se em casa. Bateu o pé para conseguir um acordo melhor e conseguiu. Renovou o contrato com o estádio da Copa do Mundo com mais participação na bilheteria, uma loja do clube no local, espaço para construir o seu memorial e transferir a sua sede administrativa e, principalmente, mais participação na discussão sobre assuntos que afetam diretamente o seu torcedor. Queria, acima de tudo, a chance de fazer o torcedor se sentir em casa na Fonte Nova.
A solução para o Náutico talvez seja voltar para casa. A Arena Pernambuco vinha se virando bem, mas uma hora a sua localização e o péssimo acesso cobrariam um preço. O Timbu vinha descontente porque o público não era dos melhores e o estádio não tinha o mesmo espírito de alçapão dos Aflitos. Também irritava a demora no empreendimento imobiliário chamado Cidade da Copa, uma cidade próxima à isolada São Lourenço da Mata, para povoar a região. Não saiu do papel, e no atual Campeonato Pernambucano a ausência de torcedores chegou ao seu ápice.
No Hexagonal do Título, o Náutico teve média de público de 4.616 torcedores nas cinco partidas, e nem venha culpar os pobres estaduais por isso. Mesmo os clássicos contra Santa Cruz (4.626) e Sport (6.063) não atraíram muitos torcedores. Para ter uma noção do tamanho fracasso de bilheteria, o Serra Telhada, do interior, teve média de 4.064, isso porque no último jogo, contra o Central, recebeu apenas 739 pagantes. Até lá, esse número era de 4.895 no seu estádio com capacidade para 5 mil almas.
A diretoria há algum tempo vinha deixando claro que considerava um erro ter trocado os Aflitos pela Arena Pernambuco também pelo lado técnico, porque o Náutico parou de conseguir vitórias improváveis e de ter aquela regularidade importante nos jogos em casa. E o clube está em situação financeira complicada. A diretoria criou uma comissão para rever alguns pontos do contrato com o consórcio do estádio da Copa do Mundo. Uma das opções é voltar a mandar partidas de pequeno porte nos Aflitos.
Caso quisesse ficar com a Arena Pernambuco e apenas se livrar do consórcio, poderia fazer como o Grêmio. O clube gaúcho cedeu a gestão do seu novo estádio à OAS na parceria que foi firmada para levantá-lo. Mas Fábio Koff decidiu rever o contrato quando assumiu a presidência, principalmente porque reclamava de não poder fazer promoção com ingressos mais baratos, nem ter autonomia o bastante para sequer marcar um treinamento sem pedir permissão. Comprou sua casa de volta. “A Arena é do Grêmio”, foi o grito de independência.
No caso do Grêmio, o único envolvimento do poder público foi um empréstimo do BDNES para ajudar a financiar as obras. Mesmo quando não há a interferência do governo, nem sempre consórcio e clubes conseguem alinhar os interesses. O Palmeiras aparentemente fez um bom acordo com a WTorre, mas já houve rusgas por causa dos repasses ao clube da verba pelos shows do Paul McCartney, em novembro, e uma festa que a administradora do Allianz Parque organizou com a presença de Kaká, ex-jogador do São Paulo.
As empreiteiras, muitas delas parceiras dos clubes, passam por uma situação complicada com as ramificações da Lava Jato e também sofrem com uma economia estagnada. Há também um pouco de inexperiência nos dois lados. De um lado, clubes, como o Bahia, que nunca tiveram que administrar um estádio na vida. Do outro, empresas que sabem levantar prédios, mas não exatamente o que fazer com eles. “Acho que quando esses acordos foram fechados, o cenário econômico era favorável, tinha a empolgação da Copa do Mundo. A Copa não deixou o legado que imaginamos que deixaria. O país entrou em uma recessão”, explica Jorge Avancini, diretor de mercado do Bahia – antes disso, foi vice-presidente e diretor executivo de marketing no Internacional. “Acho que estamos passando por um aprendizado, e as arenas entenderam que têm que se adequar. Elas foram buscar muitas experiências de fora, que não servem para o modelo brasileiro”.
Avancini não quis fazer a mesma coisa com o Bahia. Durante as tratativas com a Fonte Nova, não procurou exemplos de fora do país porque acredita que não existe um modelo padrão de excelência para esse tipo de negócio. “O que é bom para o Rio Grande do Sul não quer dizer que é bom para Salvador”, afirma. “Eu acho que os consórcios que estavam construindo poderiam ter ouvido mais as pessoas locais”. Citou os modelos de Wembley, estádio público que recebe jogos de Copa e da seleção inglesa, e os da África do Sul, de um país sem tradição de futebol, como alguns exemplos que ele ouviu serem usados pelos consórcios. Na sua experiência pelo Internacional, acompanhou de perto toda a relação com a Andrade Gutierrez. “A Andrade custou a entender que o Inter era o grande elo entre o torcedor e o produto que ela oferecia”, afirma.
E essa tem que ser a base de tudo. O primeiro passo para uma empresa que entra em um mercado desconhecido é entender suas nuances. No futebol, a paixão do torcedor é prioridade absoluta. É em nome disse que os clubes vivem, contratam jogadores, montam times e disputam campeonatos. É por causa disso que o futebol tem o tamanho que tem e gera o dinheiro que gera. E se construtoras ou qualquer outro terceiro quiser um lugar nesse banquete, precisa levar isso em consideração.







